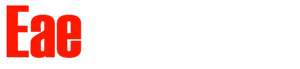Bioinsumos no Brasil: política pública ou força de mercado?

Por Luis Eduardo Pacifici Rangel, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Ex-secretário de Defesa Agropecuária e Ex-Diretor de Análises Econômicas e Políticas Públicas do MAPA
Nos últimos anos, os bioinsumos se tornaram protagonistas de uma nova narrativa sobre sustentabilidade na agricultura brasileira. São produtos biológicos – como inoculantes, biofertilizantes e agentes de controle biológico – que substituem ou complementam fertilizantes e defensivos químicos, prometendo ganhos de produtividade com menor impacto ambiental. No papel, o Brasil parece ter encontrado o caminho para uma transição verde: uma série de planos e programas foi lançada para impulsionar o setor, como o Plano ABC+, o Programa Nacional de Bioinsumos (PNB) e as Políticas Estaduais de Agroecologia e Produção Orgânica.
Mas o que dizem os dados? Um estudo recente
Bioinsumos e Sustentabilidade: Evidências Empíricas sobre Adoção, Políticas e Estrutura de Mercado no Brasil — analisou de forma quantitativa se essas políticas realmente influenciaram a adoção de bioinsumos no país. A conclusão surpreende: as políticas públicas, embora bem-intencionadas, não têm efeito mensurável sobre a adoção desses produtos. O avanço dos bioinsumos parece seguir mais a lógica do mercado e das vantagens comparativas da agricultura tropical do que a força das políticas de governo.
O estudo será divulgado durante a COP 30, em Belém do Pará, pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDS). A publicação estará disponível na página oficial do instituto (www.idsbr.org), como parte de uma série de análises sobre transição verde e inovação agroambiental. A iniciativa busca ampliar o debate sobre o papel das políticas públicas e do mercado na consolidação da bioeconomia brasileira, destacando o protagonismo da agricultura tropical na construção de soluções.
A corrida dos bioinsumos e a promessa das políticas verdes
Desde a criação do Programa Nacional de Bioinsumos, em 2020, o tema ganhou status estratégico na política agrícola brasileira. O decreto que instituiu o PNB previa nada menos que uma revolução tecnológica: ampliar o uso de bioinsumos, reduzir custos e mitigar impactos ambientais. O plano dialogava diretamente com outros instrumentos, como o Plano ABC (de agricultura de baixo carbono) e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), compondo um mosaico de políticas ambientais e produtivas.
Essa multiplicidade de iniciativas fez o Brasil despontar como um dos países mais avançados na agenda de bioinsumos. Segundo a FAPESP (2023), existiam mais de 600 produtos registrados e cerca de 170 biofábricas em operação, tratando mais de 25 milhões de hectares — um mercado que cresce cerca de 20% ao ano. Em algumas culturas, como a soja, o uso de inoculantes se tornou praticamente universal.
O cenário é, sem dúvida, promissor. Mas será que esse crescimento foi induzido por políticas públicas ou pela própria dinâmica do mercado?
Analisando o efeito das políticas: o que os números mostram
O estudo analisou dados de 2014 a 2023 em todas as 27 unidades da federação, utilizando dois métodos estatísticos clássicos: regressão Logit, para medir a probabilidade de adoção dos bioinsumos, e Diferença-em-Diferenças (DiD), para estimar o impacto causal das políticas públicas.
Os resultados foram claros: nenhuma das principais políticas públicas apresentou efeito estatisticamente significativo sobre o uso de bioinsumos, seja para defensivos biológicos, seja para inoculantes.
O Plano ABC e o PNB mostraram associação positiva — ou seja, parecem andar junto com o crescimento da adoção —, mas sem impacto causal. Em outras palavras, as regiões onde essas políticas estavam presentes já estavam avançando no uso de bioinsumos por outros motivos, especialmente estrutura de mercado, crédito e capacidade técnica.
A exceção parcial foi o crédito sustentável, que apresentou relação positiva com o uso de inoculantes. Isso sugere que os instrumentos financeiros — mais do que as políticas regulatórias — são capazes de acelerar a difusão dessas tecnologias. A influência direta de políticas normativas, como a PNAPO, foi pequena ou até negativa em alguns casos, possivelmente porque muitos produtores desenvolvem seus próprios bioinsumos em fazendas (“on farm”), fora do sistema formal de registro.
Em resumo: o mercado respondeu mais rápido do que a política.
Do incentivo à realidade: quando a política é “café-com-leite”
Essa constatação levanta uma questão incômoda, mas necessária: as políticas de bioinsumos são realmente motores de mudança ou apenas acompanham uma tendência inevitável?
No Brasil, é comum que políticas ambientais e agrícolas surjam mais como respostas a um movimento já em curso — ou, como diria o senso comum, políticas “café-com-leite”: iniciativas que buscam emoldurar uma transição que já acontece, em vez de provocá-la.
O caso dos bioinsumos ilustra bem esse dilema. O uso de inoculantes na soja, por exemplo, é uma prática consolidada há décadas, anterior a qualquer marco regulatório recente. Já os defensivos biológicos vêm crescendo impulsionados pela demanda de grandes produtores por alternativas mais seguras, pela pressão dos mercados consumidores e pela própria competitividade das tecnologias tropicais.
As políticas, nesse contexto, não criaram o fenômeno, mas o legitimaram. Serviram para dar moldura institucional a uma transformação que já tinha base econômica sólida. É um tipo de política pública de “sinalização”: transmite ao mercado que o governo apoia o setor, mas não altera os fundamentos da decisão produtiva.
A força da agricultura tropical e da inovação de mercado
O estudo mostra que os bioinsumos brasileiros evoluem por mérito próprio. A agricultura tropical tem vantagens comparativas únicas: diversidade biológica, clima favorável, e um ambiente de inovação que permite o desenvolvimento de microrganismos e formulações adaptadas às condições locais.
Esses fatores explicam por que o Brasil ocupa posição de destaque no mercado global. O índice de concentração de mercado (HHI) mostra que o setor de inoculantes é altamente competitivo — com dezenas de empresas ativas e baixa concentração. Já o segmento de controle biológico apresenta concentração moderada, mas também com crescimento rápido e diversificação tecnológica.
O avanço das biofábricas privadas, cooperativas e startups evidencia uma dinâmica de livre mercado que se retroalimenta: quanto mais produtores adotam bioinsumos, mais atrativo se torna o investimento privado no setor. É uma transição que se sustenta pela competitividade, e não apenas por incentivos públicos.
O contraste com países de clima temperado é marcante. Lá, as condições ambientais limitam o uso de alguns agentes biológicos e o mercado tende a depender mais de subsídios e regulações. Aqui, a natureza é aliada — e isso muda tudo.
Por que as políticas ainda não fazem diferença?
Há várias razões para a falta de impacto direto das políticas públicas sobre a adoção de bioinsumos:
- Dados fragmentados e ausência de monitoramento. O país ainda carece de bases integradas que permitam acompanhar, de forma sistemática, a produção, o uso e os impactos dos bioinsumos. Sem dados confiáveis, as políticas não conseguem calibrar seus instrumentos.
- Defasagem entre formulação e implementação. O Programa Nacional de Bioinsumos, por exemplo, foi lançado apenas em 2020 e ainda está em fase de consolidação institucional. Avaliar seus resultados antes de uma década de maturação é prematuro.
- Distância entre o normativo e o operacional. Muitas políticas estabelecem diretrizes genéricas, mas não trazem mecanismos efetivos de incentivo, monitoramento ou avaliação. O resultado é um conjunto de boas intenções com pouca capacidade de indução real.
- Capacidade institucional desigual. Estados com maior estrutura técnica e número de agrônomos apresentam maior adoção de defensivos biológicos, independentemente da presença de políticas. Isso mostra que o capital humano pesa mais que a política formal.
- Força do crédito privado. O crédito sustentável — principalmente via bancos públicos e programas verdes — mostrou ser o único instrumento com correlação significativa. Isso indica que políticas financeiras têm mais poder de transformação do que marcos regulatórios isolados.
O mercado se move: a bioeconomia como vetor espontâneo
Apesar da fraca evidência de impacto das políticas, o setor de bioinsumos cresce de forma acelerada. Esse crescimento espontâneo não é um problema — pelo contrário, é um sinal de que o mercado está maduro.
O Brasil vive uma transição silenciosa, em que a lógica de custo-benefício e inovação tecnológica supera o papel tradicional do Estado como indutor. Os produtores percebem vantagens econômicas claras: menor gasto com fertilizantes, redução de riscos ambientais e até ganhos de imagem junto a compradores internacionais.
É o tipo de evolução que desafia a teoria clássica de política pública: nem sempre é preciso subsidiar o que já é competitivo. Em alguns casos, o melhor papel do Estado é não atrapalhar, garantindo regras claras, fiscalização equilibrada e apoio técnico.
A nova Lei nº 15.070/2024, que regulamenta de forma unificada a produção e o uso de bioinsumos, é um passo importante nessa direção. Mas seu sucesso dependerá da qualidade da regulamentação infralegal e da capacidade de integrar dados e instrumentos de crédito — um desafio que ainda está em aberto.
Política pública ou livre mercado?
A grande pergunta que emerge é: as políticas de bioinsumos refletem uma estratégia de Estado ou apenas acompanham o mercado?
Se as políticas são “café-com-leite” — bem-intencionadas, mas inócuas — o risco é criar uma sensação de avanço institucional sem alterar a realidade produtiva. Por outro lado, se o setor de bioinsumos continuar crescendo de forma autônoma, o Brasil pode estar diante de um raro caso de convergência entre sustentabilidade e competitividade de mercado.
Isso não significa que o Estado deva se ausentar. Mas talvez precise mudar de papel: em vez de tentar empurrar a adoção, deve garantir a infraestrutura institucional e técnica que sustente o crescimento — dados públicos confiáveis, capacitação de agrônomos, linhas de crédito bem calibradas e marcos regulatórios coerentes.
Conclusão: rumo a uma política de maturidade
Os resultados do estudo sugerem que o futuro dos bioinsumos no Brasil não será determinado apenas por decretos, mas pela sinergia entre ciência, mercado e governança.
As políticas públicas continuam importantes como legitimadoras e estruturadoras, mas o verdadeiro motor da transição sustentável parece ser a força econômica da agricultura tropical. A tecnologia é competitiva, o mercado é vibrante e os produtores estão dispostos a adotar soluções biológicas quando elas fazem sentido econômico.
A pergunta que fica é provocadora: o governo quer liderar uma revolução verde, com políticas consistentes e base de dados sólida? Ou continuará apenas emoldurando uma tendência que o mercado já abraçou sozinho?
Talvez o desafio do Brasil não seja inventar políticas novas, mas fazer as existentes funcionarem de verdade — com foco, coerência e transparência. Só assim a sustentabilidade deixará de ser um discurso e se tornará um ativo competitivo real da agropecuária brasileira.
Por Luis Eduardo Pacifici Rangel, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Ex-secretário de Defesa Agropecuária e Ex-Diretor de Análises Econômicas e Políticas Públicas do MAPA